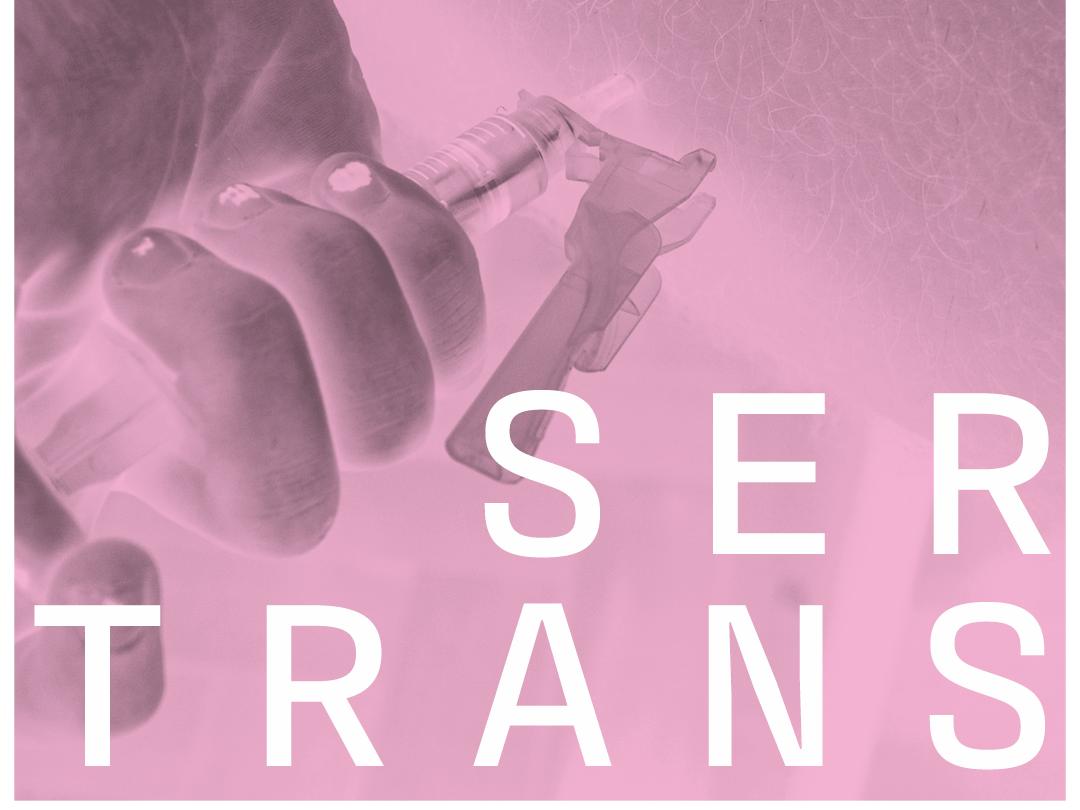Mendy Black é meu nome artístico, que no final das contas acabou que grudou tanto que eu me senti bem pra ser meu nome social. Ainda não troquei no registro porque eu também fico pensando bastante sobre isso, nessa pessoa que nasceu, essa pessoa que viveu, que sobreviveu. Que por meio de tudo isso, de todas as opressões - pensando em recorte social, ser uma pessoa negra, uma pessoa não binárie -, eu não posso me esquecer de quem eu fui. Tudo isso faz parte de quem eu sou, de quem eu tô me tornando. Então falar de mim é falar da minha fluidez. E essa colocação no mundo. Na verdade eu tô numa constante construção de quem é Mendy Black, quem é SOS Diamond, o que isso significa.
Porque essa fluidez também se dá a partir de como eu tô me construindo. Eu não quero deixar esse espaço de quem eu fui ser apagado. Pensar em Mendy Black é pensar em novas estratégias. É difícil falar "sou assim", "sou de tal forma". Eu posso ser assim hoje, ser de outra forma amanhã. E eu acho que me colocar nessa posição de querer essa transformação, essa mudança, significa muito pra quem eu tô me tornando agora. A partir também das coisas que eu faço, ressignificando quem eu sou. Porque enquanto uma pessoa trans temos a questão do trabalho, né. A gente ressignificar o nosso trabalho também, dar nome pra quem a gente é, dar significado pro que a gente é.
Sou artista, compositore, beatboxer, sou estudante, sou filhe de políticas públicas, moradore de casa de estudante. Tenho aí algumas percepções de como me coloco no mundo, o que é o meu corpo, quem sou eu realmente nesse espaço - e que espaço é esse? Então eu penso todos esses componentes pra formar quem eu sou. A gente fica a vida inteira se perguntando quem a gente é. Principalmente a gente que fica formando papéis e máscaras o tempo inteiro nos espaços pra poder ser aceite nessa filosofia cisgênera. Então quem eu sou é uma constante, algo que flui com o tempo e não para, é algo que se permanece sempre em mudança.
Agora em fevereiro, junto com o meu aniversário, vou me formar em socorrista. Entender que trabalhar no setor saúde, a gente vai ver muitas coisas que acontecem com corpos como o nosso, como essa binariedade é violenta pra gente. Eu entrar na sala de aula, ter que respirar fundo por ouvir "homem acontece isso", "mulher acontece isso" e eu ter que ser a pessoa em dizer "tá e se essa pessoa hormoniza?". E eu sei que sou eu que tenho que fazer isso, porque o externo não vai fazer. Então eu entro, analiso, penso o que tá acontecendo antes da minha fala. Não pela minha fala não ser importante, mas pra eu saber como colocar, porque a gente tem que pensar estratégia. Porque em muitos momentos eu simplesmente falei e eu tenho que observar a minha questão de autocuidado. Eu faço terapia e a terapia realmente é muito importante pra isso, porque a gente tem que saber onde que nos colocamos, em que momentos nos colocamos e se aquilo faz bem pra nós, se essa reação do outro não vai nos ferir ainda mais. Pra mim é uma questão de autocuidado, porque eu não deixo de ser uma pessoa trans, preta, não-binárie.
Ter vindo de Novo Hamburgo foi muito choque assim, de uma cidade pra outra. Mesmo sendo uma hora de diferença, ter esse choque de acesso, de estar ou não na universidade, de encontrar outras pessoas trans, que até então eu não via, eu não tinha referência, não tinha "ah, essa pessoa é parecida comigo", "ah, essa pessoa é isso então esse mundo não é tão ruim assim". Olhar em volta e "tá, é a rede, aqui tem acesso". Acesso pra eu existir, acesso pra eu ser. E é sobre isso. Porque acesso não é só quando tu tem material ou não. Não é só disso que se trata. Acesso, informação - mas quem tem a informação? Quem pode passar? Por isso tô me formando de socorrista, por isso tô trabalhando na área da saúde, pra poder também ampliar esse diálogo e cuidar de outras pessoas assim que nem eu, pra poder olhar pra elas com amor.
Sou filhe de Oxum e de Logun Edé, então eu vejo esse meu gênero fluide também muito nisso, porque Logun Edé é uma expressão não-binárie. E olhar pra essas figuras é olhar pra prosperidade, amor, tudo isso que engloba religião e o que isso é pra gente prete. Então essa busca por cuidar do próximo, pensando na promoção de saúde, que também é arte. Tanto o meu trabalho com a saúde quanto a arte, tudo isso pra mim vai ser uma coisa não única, mas de fator único na minha vida para que eu possa ampliar e de forma que possa abraçar mais pessoas. Então, falar dessa ancestralidade é falar desse amor, não só esse amor forjado ensinado, amor ao próximo com visão de caridade, com visão de pena. É muito mais de olhar pra outra pessoa e "tá, vamos pensar em alguma coisa e vamos resolver juntes" ou "o que você tá precisando?". E eu falo bastante no setor saúde porque é ali que a gente vai ver as coisas acontecendo. Porque eu sei que eu entrar num consultório, num ambulatório, que não vai dar a assistência que eu preciso, é muito violento. É muito violento, a gente sabe disso. Em Novo Hamburgo não tem ambulatório T, nem se fala disso. Me desloquei pra capital do Rio Grande do Sul pra descobrir que isso pode ser para mim também. Que não tá errado. Porque tem essa visão cristã, hegemônica que rege Novo Hamburgo, é complicado tu pisar naquela cidade e ser apenas tu. É muito difícil. Tu olhar e não ter nenhuma referência pra te espelhar. Só consegui isso a partir da universidade pública.
E é pela informação, pelo acesso a dizer "ah, existem pessoas não-bináries" e daí ler aquilo e dizer "isso é pra mim! Isso sou eu! Como assim? Todo esse tempo a minha vida era uma mentira!" (risos). E entender porque desse não se sentir bem em grupos. De tu chegar e dizer, de uma forma bem estereotipada assim, por exemplo um grupo de mulheres cis pretas. Eu sei que eu vou fazer o máximo pra me sentir bem, pra me sentir acolhide. Mas ao mesmo tempo chega um ponto que o sentimento não vai ser o mesmo, não vai alcançar o que eu tô sentindo. Eu sei que naquele grupo vão falar vários assuntos que eu olho pro meu corpo e não é pra mim. Piora quando eu olho pra um grupo de homens cis. Porque daí eu olho a minha fluidez e como esse externo vai pro meu corpo é tipo... Homens cis me tratam como homem. Então vai ser "e aí, mano". Porque eu sou MC. Então também sou eu e um monte de homem. Quando eu vou batalhar é eu e 20, 30 caras. Eu chego e tem um monte de homem falando sobre várias coisas e dentro delas tem transfobia, homofobia, gorodofobia. Aí eu olho assim, as pessoas com várias inseguranças. Porque dentre as pessoas cisgêneras a insegurança é velada, mas é expressada e reproduzida de formas muito violentas, que é o que chega em nós, que é o que respinga na gente e o que faz a gente ter essa dificuldade de permanecer nesse mundo. Eu analiso muito isso, porque passar por essa face do suícidio, passar por essas faces de pertencimento, é isso que atinge nosses corpes.
Tudo vem da família né, da onde a gente nasce. Foi a partir de 2019 que eu percebi mi corpe assim, de "tá, sou uma pessoa não binárie". Porque até então eu não conseguia dar nome, dizer 'tá, isso realmente é pra mim'. É um pouco difícil falar disso pensando nesse contexto familiar, porque me apagou muito. Na minha família foi muito pouco discutido sobre o que é a própria sexualidade, quanto mais o gênero. Não era nada discutido. Mesmo enquanto mulher cis. A minha mãe não tinha tempo. Minha mãe trabalhava, tinha dois empregos. Eu via ela uma vez no dia ou no final de semana. Então falar disso? Não tinha tempo. Eu to passando ainda por esse processo de entendê-la um pouco mais. Porque eu também por ser pessoa preta eu não posso desconsiderar o recorte dela. Ela é uma mulher preta, doméstica, trabalhava de diarista, enfim, todos os dias nos dois empregos. E aí cabe em mim né, esse não tempo, essa não-fala.
Eu vestia as roupas do meu irmão. Meu irmão era do rap quando eu era criança, antes de ele se mudar, e ele usava roupas largas. Eu jogava bola com os guris e ele tem dez anos de diferença de mim. E eu lá, pequenissime, ia lá, me metia no meio dos caras. Eu não queria só ficar fazendo certas coisas que eram destinadas só pra um corpo fazer, que é brincar de boneca, arrumar o cabelo, etc. E eu acho isso bem estereótipo, mas é o que acontece. Eu não posso desconsiderar e dizer que isso não faz parte da minha vida. Aí a gente começa. Aí olhar para aquilo "ah, isso que tu fazia de brincar com os guris não pode", "botar roupas do teu irmão não pode". Tá. "Que roupa que eu preciso botar então?". "Essa que foi colocada pra você, desse jeito que você tem que sair vestidA". E aí me montava. Aí eu sei que eu me montava. Botava os brincos mais bonitos, argolas. Eu colocava trança, né. Tem isso que tem o povo preto. Meninas alisam o cabelo pra poder serem aceitas em sociedade. Alisei por um bom tempo. Depois disso eu já não aguentava tanta química no meu cabelo, aí eu passei a usar trança. Usei por 5 anos, até 2019. Minhas tranças batiam na bunda. E aí sempre maquiade. Batom vermelho, batom rosa. Meu olho sempre muito bem pintado. Em festas? Aqueles vestidos coladinhos, salto. Não descia do salto um momento. Só que ao mesmo tempo que eu chegava nos lugares… não era pra mim. Eu tava sempre me sentindo mal. Eu chegava ali e tinha um comportamento pra seguir. Um não, né. Dois. Ou um, ou outro. Ou para um, ou para outro. Porque quando se é mulher cis tu faz para o outro. Para o homem cis. Para essa sexualização que existe principalmente se tu é uma mulher preta. Como eu disse, eu não posso desconsiderar a pessoa que eu fui porque ela constitui quem eu sou agora também. Por eu não poder olhar pra uma mulher preta e dizer "ah, eu não entendo isso que você passou". Eu entendo. Olhar pra ela e dizer "eu passei também". De ter que fazer isso pra agradar outra pessoa, que não sabe ouvir um não. Então a gente passa a vida aprendendo que dizer não é difícil, é doloroso e que, por essa dificuldade de dizer não, o meu corpo pode ser invadido. Passei por muitas coisas enquanto esse corpo que existiu.
2019. Aí vem a relação que eu tenho com a minha família. Não é boa. Sofri violência. E a minha violência foi física, foi verbal. Além das falas de "não acredito nisso!", né, na questão da sexualidade, "tu trouxe uma pessoa aqui!". E eu estava com 22 anos. "Tu trouxe uma pessoa aqui, eu não acredito!". E aí a violência. Que durou uns 6, 7 meses. Começou a violência em 2018 até 2019 e em 2019 eu não aguentei mais porque chegou um momento em que eu estava sangrando, que eu não tinha pra onde ir. Sentei na calçada na frente de casa. E aí veio a arte. Eu já estava fazendo algumas desde 2018, beatbox. Eu faço beatbox desde esse período, assim. Aí a arte me interligou com pessoas que por exemplo puderam estender a mão pra mim, principalmente nesse momento que foi eu sentade na calçada olhando meu sangue escorrendo e eu mandando mensagem "alguém pode me ajudar? Eu não tenho pra onde ir. Eu não quero mais ficar em casa". Eu consegui juntar uma mochila com o que eu podia. Aí chegou um amigo meu que disse "vem pra cá". E aí fiquei com essa pessoa por quase dois meses.
Eu tava no primeiro semestre da UFRGS. Aí eu consegui um estágio na regulação do SUS, mas pra sobreviver esse primeiro e segundo mês que veio o meu outro trampo, Dos Trilhos pro Mundo. Eu sou artista de rua também. Então eu trabalhava no trem, consegui me manter assim por esses meses, porque eu não tinha nada, nada, nada. E isso foi bem tenso porque eu não sabia o que eu ia comer no outro dia, eu não conseguia pensar como que a minha vida tinha chegado naquele ponto de, além de todas as outras dificuldades, eu não saber que que eu ia comer no outro dia. Mas a partir dali eu comecei a me libertar cada vez mais, de tipo "não quero mais saber", sabe. Porque se aquele ponto principal, que é a família, que é a nossa base, expurga a gente...
E pensar ancestralidade do povo prete é pensar que a minha mãe já foi adotada por uma família de brancos. A minha mãe vem do interior, de uma outra linhagem, então eu também tenho que pensar na ancestralidade dela, que foi arrancada dela. E aí pensar na minha. Então a minha mãe foi escravizada por pessoas brancas durante grande parte da vida dela, até completar 18 anos e conseguir vir pra Porto Alegre. Depois ela se mudou pra Novo Hamburgo. Quando a gente pensa no povo prete, a gente pensa em toda essa linhagem, em toda essa ancestralidade e tudo que isso vem. Então se afastar disso é tu apagar toda a história.
Sempre acaba na minha mãe porque era sempre eu e ela pra tudo. Isso é uma coisa muito louca porque ela foi a pessoa que disse "não te quero mais aqui". A violência que eu sofri foi com a minha irmã. Ela é mais velha do que eu, eu sou a pessoa mais nova da família. A transfobia foi dela, a homofobia foi dela, de olhar pra mim e dizer que o que eu fazia, o que eu era, era uma pouca vergonha. Que era uma coisa que não deveria existir. Que eu jamais poderia ser quem eu era dentro da minha própria casa - que até então eu considerava que era a minha casa.
O que passou depois desses dois meses é que eu encontrei a arte de forma muito mais profunda, que daí eu entendi que a partir da arte eu poderia ter essa liberdade de ser quem eu sou. De escrever e compor uma música e "eu vou falar disso!". De no meu curso tocar o foda-se e mandar uma poesia falando o que realmente as pessoas são e largar o microfone com orgulho de ter dito o que tinha que dizer, no momento e forma que tinha que falar e pra quem tivesse que ouvir. E sem se importar em como que ia chegar nas outras pessoas. E essa é a arte. Tu poder reivindicar, tu poder manifestar o que tu tá sentindo, da forma que tu quer. E tocar o foda-se. Porque se eu não tocar o foda-se tá aí a minha morte encomendada. Pensando suicídio, pensando estatísticas. Somos um número. Trabalhando no setor de saúde eu entendo que somos um número. Somos um número a partir dos nossos CPFs, dos nossos RGs, do nosso número no SUS. Aí essa minha procura de não ser só isso, de não ser só esse número. De tentar transfigurar, transformar.
E ter me mudado pra cá, por mais que tenha sido de forma brusca, de forma violenta, também eu tento enxergar de uma forma ampliada, de quem eu conheci a partir disso. A partir dessa arte, dos movimentos. Eu conheci a Arlequeen através do Hip Hop. E ela foi a primeira pessoa trans que eu conheci no Hip Hop. Até então eu não tinha nenhuma referência, só de homens cis. E de mulheres cis. Eu digo fisicamente, não daquilo que a gente procura na internet. Porque a gente precisa também olhar a nossa volta e entender que outras corpas existem e estão aí. Tem até um EP que eu tô escrevendo desde aquela época, são as primeiras músicas que eu escrevi sem entender quem eu realmente era. Já no começo das minhas falas tem "transmutação". Eu escrevi algumas coisas, aí passou todo 2019 até a metade de 2020 sem eu voltar nesse meu EP, nessas minhas escritas. Aí eu fui ler isso de novo e ver que o que eu escrevia faz total sentido. Até então era tudo um sofrimento, eu olhar aquelas linhas assim e "nossa, olha só o que eu to escrevendo", de eu chorar em cima e ver a minha arte e não querer mostrar aquilo pra ninguém. E entender que era só eu existindo naquele momento. E que não tem problema nenhum. Que hoje eu sou compositore, olhando pra esse meu outro processo com amor, com autocuidado. Olhar e não me cobrar tanto. E essa minha trajetória é bem complicada por eu conseguir dar nome pra quem eu sou não faz tanto tempo. Entender quem eu sou nesse meu formato de ser fluide, de abrir os meus braços pra coisas que a gente acaba se fechando, por preconceito.
Eu não posso olhar pra mim e dizer "sou a pessoa perfeita". As pessoas tem uma mania de tipo querer ser perfeito, de atingir uma noção que é impossível. E eu era essa pessoa. Buscando uma perfeição. Que não era nem a minha. Não era o meu caminho, não era pra mim. Era sobre eu performar pra outra pessoa se sentir bem comigo naquele espaço. Porque tu faz as coisas pra outra pessoa se sentir bem com a tua figura naquele espaço. Não pra tu se sentir bem. Eu chego aqui na Kaliça por exemplo, que é um lugar onde pessoas são o que elas são, independente das suas falhas, desse "certo" ou "errado". Acabou essa pessoa perfeita, já era. Aceito, abraço e cuido das minhas falhas. Quando a gente prete fala de futurismo, é a gente entendendo a nossa ancestralidade, o nosso passado, pra então pensar coisas pro futuro a partir do que a gente faz no presente. Eu vou pensar no futuro a partir da minha vivência, a partir do que eu já fiz, do que eu ressignifico, do meu trabalho, dessa força que dizem que eu tenho. Olham pra mim e dizem "nossa como tu é uma pessoa forte", "olha quanta luta", ou "você é uma referência".
Sou referência no beatbox porque eu sou a única pessoa trans não-binárie que representa o beatbox aqui no Estado. E acredito que em muitos momentos na rima também, porque sempre sou só eu e até então eu sou sempre colocade como monstra, por eu vir também do coletivo Batalha das Monstras. Mas nesse coletivo tem pessoas não-bináries como eu, ou enfim, pessoas que se entendem de outras formas e sempre são colocadas como figuras femininas em batalhas de rima. É a cultura machista, patriarcal. Então vão olhar para mim e vão rimar como se eu fosse uma mulher. Ou como um cara. Nunca vão olhar para mim, olhar a minha expressão de gênero e dizer "e aí pessoa não-binária", seguindo na sua rima, fazendo uma construção. Tem um vídeo de eu falando pra um cara assim "meu, não me leve a mal, isso se trata de recorte social". De ele ficar me colocando no masculino ou no feminino. E aí eu digo "mano, olha essa tua fala aí". Aí tem que ficar corrigindo os caras. Daí eu fico na minha vida corrigindo os caras. Eu ando bem desestimulade assim inclusive, por conta disso, sabe. Eu chego na batalha, aí ver quem vai batalhar comigo, às vezes é dupla ou trio, aí tem que rimar com um cara, tua dupla pode ser que seja também gordofóbica, transfóbica. Tu respira fundo. Aí vem esse pertencimento, né. Bate toda essa lombra de "que que eu to fazendo aqui?", sabe. Só que daí... Eu sou referência no Estado. Não tem muitas pessoas como eu que permanecem na cena, que desconstroem isso, sabe? Porque é muito difícil. É muito difícil. Não difícil fazer. Difícil estar. Permanecer. Ficar ali. Escutar. Por isso que eu disse que não é chegar num lugar e "não vou falar". É chegar num lugar e ver se o que eu vou falar vai fazer bem pra mim.
Ainda mais que eu trabalho no setor de saúde, então tenho que pensar estrategicamente o tempo todo. Eu não posso chegar na minha emoção de dizer algo porque sou só eu indo contra. Daí eu olho pra mim e, tanto no curso, em vários lugares, fica eu ali carregando e recebendo um monte de coisas. E no final das contas a pessoa prete tá ali com um milhão de tarefas. Tarefas, né? Que eu não consigo com essa palavra. Um milhão de tarefas que pessoas externas chegam e "ó, faça". Ninguém pergunta se tu pode, se tu não pode. Simplesmente "faça". Já fui da gestão do centro acadêmico do meu curso, me sobrecarregou. Porque eu fazia 8 disciplinas, cuidando da minha vida, ainda era da arte, passando tudo aquilo em 2019 e ainda fazia Gestão Cultural do meu curso. Eu faço Saúde Coletiva, que é para gestão do SUS. Meu curso é lindo, tem uma filosofia maravilhosa, mas igual tenho que trabalhar com um monte de gente cis branca. Em conselhos, em instâncias, em palanques. Então eu tenho que respirar fundo, subir no palanque e falar o que eu tenho que falar. De forma pomposa. De forma embranquecida. Mas tem uma coisa que eu não perco, que é meu cerne, minha originalidade. Por mais que eu chegue dentro desses espaços e tenha que analisar isso, vou analisar isso a partir da minha perspectiva, da minha vivência e de o que faz bem pra mim, de como eu me coloco. Porque eu deixei real de viver em função da outra pessoa, do que a outra pessoa vai achar. Obviamente que eu tenho muita insegurança nas minhas falas, mas o que eu digo é que eu não perco o meu cerne, essa essência.
Eu tô desestimulade de ir nas batalhas porque sempre sou só eu. Eu, eu, eu. É bonito. É maravilhoso. Eu tiro fotos. Que nem eu falei do meu curso, sim, minha imagem, tô lá no Portas Abertas do meu curso, se tu for abrir o site vai tá lá eu fazendo beatbox. Mas daí as pessoas querem o que? A minha imagem. Porque no meu curso ninguém me apoiou quando aconteceu isso. E são pessoas que pensam políticas públicas. Mas que eu não posso deixar de considerar que são pessoas brancas, pessoas cis. E isso é muito pra minha existência.
Estudei 4 semestres de enfermagem na Unisinos. Daí eu parei. Também porque eu não sou muito de hospital. Eu não gosto muito de ambiente hospitalar, dessa protocolização. Por isso que eu gosto do meu curso, porque consegue pensar na promoção de saúde através de outras práticas, integrativas. Consegue olhar pra saúde de outro modo, não só medicalização, hospital, essa parte clínica, biomédica... Tu vai olhar pra isso a partir do cuidado, da pessoa, do usuário, de como essa pessoa tá. E não só a doença. Você vai olhar "vamos pensar os fatores que ocasionaram isso, influenciaram pra isso". Sempre vão colocar uma pessoa preta em bipolaridade. Não só a pessoa preta, mas principalmente por ser o setor que utiliza SUS. Eu justamente to tentando entrar nisso porque, bá, é um saco. Por exemplo, pessoas trans que não sabem que são trans e têm vários problemas mentais por conta disso. Eu tenho e sempre tive distúrbio alimentar e eu sei que essa minha dificuldade de alimentação foi pontual em vários momentos. Que ou ficava pior, porque é botar uma colherada na boca e "já to cheie", "já foi suficiente", e o resto do tempo é só comendo pra poder se manter em pé. O transtorno alimentar não é a comida. Não é o ato de comer. Até tô trabalhando uma coisa com a minha psicóloga, porque ela fala de banzo. A gente não tem esse "transtorno alimentar", pra gente difere um pouco. Porque se eu for falar dessa ancestralidade, o que que acontecia com as pessoas pretas nos navios? Elas tinham doenças, não só doenças externas de zoonoses. Tu vai ver elas em inanição, elas não querendo comer, elas não conseguindo comer, ou comendo somente pra poder existir, permanecer naquele longo processo. E isso tá em mim, tá na minha ancestralidade. E isso de eu correr o dia inteiro e comer uma coisinha, significa isso, sabe. De eu fazer um monte de coisas pra outras pessoas, de eu trabalhar pra outras pessoas e esquecer de mim. Por isso da minha dificuldade alimentar. É a relação da comida pra sobreviver, não a comida como um prazer. É uma relação de comer pra sobreviver, comer pra se manter em pé, pra continuar fazendo tal coisa. Não olhando pra mim. É esquecer de mim. Então são esses aspectos que devem ser pensados quando se pensa num indivíduo. É tudo que envolve, é o que a pessoa faz ou deixa de fazer.
Eu entrei em Saúde Coletiva justamente pra pensar a saúde de maneira ampliada, não só a partir da doença, não só a partir dessa culpabilização branca hegemônica cristã, que é culpabilizar o indivíduo. Porque quando tu coloca uma medicação tu diz "ó, isso aqui é tua culpa, tu carrega. Tu toma isso. Tu vai ser controlado porque tu não pode existir de tal forma. E a culpa é tua". O que é essa culpa? Essa culpa é eurocêntrica. A gente nem trabalha com culpa na ancestralidade. E eu tive que me desligar muito disso, porque eu vim de uma cultura de Igreja. A minha mãe fazia eu ajoelhar no chão e ficar rezando. Todo dia de noite. Ficar rezando o rosário inteiro, bolinha por bolinha. Porque somente aquilo ali ia livrar a gente de todo o mal, todas as coisas que estavam acontecendo com a gente o tempo inteiro. Porque não era uma coisa, era todo o tempo. Então essa minha desconfiança vem muito da minha trajetória. Não adianta olhar pra mim e dizer que eu tenho bipolaridade. Mas olhar pra mim e dizer - a partir da minha psicoterapia - que isso se trata de banzo, se trata da minha ancestralidade, isso que acontece comigo, essa minha magreza, que já foi uma magreza mais intensa. Essa dificuldade é meu corpo respondendo, dizendo assim "tu precisa se olhar, tu precisa olhar coisas na tua vida que tu não tá olhando. Vamos parar, tu precisa parar". Então aí cabe naquele rolê da referência. Até então eu era referência pra todo mundo. No meu curso eu sou referência. Referência da arte. Qualquer coisa "chama Mendy", "Mendy faz", "Mendy tem experiência com isso, então Mendy vai fazer", "dá pra Mendy fazer". Só que ninguém olhou pra Mendy e falou "não, vamos pensar, porque é uma pessoa preta, trans, não-binárie". Não só por ser eu, mas também por ser eu. Mas olhando políticas públicas e pessoas trans que estão na nossa volta, a gente precisa de um cuidado pra além, porque já basta a nossa existência nesse mundo que é extremamente opressor, binário e agressivo.
Por isso que eu tô assinalando esse rolê da saúde. Porque eu sei que a gente, setor de saúde, é porta de entrada. Então a pessoa trans vai chegar em mim e eu vou ter que atender essa pessoa. Eu preciso de outras pessoas trans no setor pra que diga "olha, vamos dar uma parada aí né. Tem que começar a tratar essa pessoa como ela precisa ser tratada, como ela deve ser tratada". Não com os teus valores sobre ela. Tu nem tem que falar nada inclusive. Tem que deixar o que tu acha pra ti. Se a pessoa veio por um problema na mão, então é sobre isso. Que nem, ó, eu falo desse exame transvaginal porque fiquei muito indignade. Eu cheguei no posto e a pessoa "ai, o que que é uma pessoa não-binárie?". Aí eu fico "é colega da saúde, será que eu explico ou será que eu não explico?", "ai, mas sou eu que estou sendo atendide", sabe? Na minha aula de socorrista, um professor levantou e disse assim "Mendy, explica". Seis meses de aula. Ele fica se cuidando "não posso falar nisso né, porque Mendy está aqui", "porque se não Mendy vai puxar minha orelha".
Na universidade estudo gestão do SUS e eu faço curso de socorrista, que é lá no começo, lá onde tu pega o ser humano antes de ir pro hospital. Eu já entrei no curso de socorrista pra poder entender todos os processos de como que chega, como que as pessoas são atendidas desde ali do começo. E também pra poder fazer esse retorno pra ballroom, pra minha comunidade, pras pessoas que estão na minha volta, pra que se um dia acontecer alguma coisa com elas, porque tão sempre rodopiando, aí cai e se desmonta e aí tem alguém no rolê pra "ó lá, se desmontou, vamos juntar aquela carcaça ali" (risos), "vamos dar um jeito e segue o baile, vamos continuar". Mas aí, tipo, tu chega no setor e a pessoa que vai te atender te atende dessa forma e tu tem que explicar da tua existência pra dizer "olha, eu queria um exame transvaginal", "eu queria um exame sei lá, eu só queria saber se eu to bem". Aí tem muitas pessoas que não vão. As pessoas não vão. E isso é problemático afu. Por isso é horrível não ter ambulatório T em Novo Hamburgo, sabe? Eu vim de lá, eu nem sei como que tá lá sabe. Outras pessoas trans lá tão passando coisas muito piores do que aqui. E aqui já é horrível. Lá, que nem tem informação, imagina. Eu comecei a ir no ambulatório agora na pandemia, porque eu comecei a pensar nas questões de hormonização. Até então eu não pensava muito nisso, porque eu sou feliz com a minha estética, eu sou feliz com o meu corpo, sou feliz. Obviamente tenho algumas disforias e depois de um tempo analisando e olhando pra mim comecei a perceber "nossa, eu tenho realmente isso", "então eu só tenho esse comportamento porque eu tenho disforia disso", dessa relação de, enfim, o que é um corpo feminino e masculino. O que um ou outro representa na sociedade, tanto na questão sexualização quanto dessa infantilização do corpo feminino. Porque no espaço patriarcal que voz que a mulher tem? A menos que ela grite? Ela tem que gritar. Aí que eu digo naquelas batalhas de Mc. Que voz que eu tenho? Eu sinto isso, essa diferença assim, dessa expressão.
O externo bate muito na gente, porque se não a gente não ia ter disforia. Eu comecei agora a minha hormonização, dia 9 de janeiro. Transição mesmo a gente faz desde que a gente começa a se perceber. Mas assim, pensar em mudança de corpo, o que isso acarreta, é muito pensando do externo pra dentro e de dentro pro externo. Não como se fosse algo "vou mudar por conta da outra pessoa", mas é muito sobre se sentir bem nesse espaço a partir de quem tu tá construindo, quem tu tá sendo. Eu tô pensando muito nisso, de ter essa oportunidade também de construir quem eu quero ser, sabe. A partir dessa transição, dessa hormonização, de poder aproveitar um passo depois do outro. Eu comecei com meia ampola pra poder também sentir essa sensação, vendo o que que tá entrando em mim e construíndo isso. E essa construção se dá tendo essa sensibilidade comigo mesme, esse auto-amor, auto-cuidado, amor interior. E aprendendo com esses novos fatores que vão vir. E amando esses novos fatores que vão vir. Então to tentando não criar expectativas de quem eu poderia ser porque se não eu vou pensar sempre em uma construção de homem cis, que eu to tentando ao máximo desviar. Porque eu vejo que homens trans se deslocam muito pra esse machismo e é bem triste porque daí eu vejo manipulação, vejo diversas coisas que me deixam um pouco chateade e eu acabo pensando que esse caminho eu não quero seguir, que esse caminho não é pra mim. Meu gênero é fluide! E tento enxergar isso assim de forma a construir quem eu sou, ter essa oportunidade de dizer o que quero ou não quero. Na primeira dose já senti esse calor, esse suor, essa energia, isso tudo. Mas a hormonização pra mim é esse processo de me respeitar, respeitar meu corpo.
Enquanto mulher cis preta, homens acham que tu é um pedaço de carne, que podem simplesmente te tocar ou fazer coisas sem a tua permisssão, como já aconteceu comigo algumas vezes. E não só homens. Depois que eu comecei a me relacionar com mulheres, mulheres cis fizeram coisas iguais aos homens, por essa reprodução patriarcal. Eu sofri a mesma violência. Olham pra mim e imaginam que eu sou um cara tri pegador. Porque olham pra uma pessoa preta e é sexualização. Antes, nesse momento mulher cis, homens viam e "tá, tu não diz não". Daí em 2019 larguei tudo, tirei trança, sou essa pessoa. As pessoas igual tentam passar a mão em mim. Em qualquer momento. Isso é hor-rí-vel. Horrível. Aí agora me imaginam como um cara, que é tri pegador, que não sei o que, que vai lá e pega todas novinhas. Só que a minha dificuldade pra me relacionar... Eu sou muito introspective. Ainda mais com pessoas que eu me relaciono. A minha terapia é eu poder entrar em conexão com as pessoas que eu tenho relação afetiva. Seja uma amizade, seja mais pessoas que estejam na minha volta. Eu tenho muita dificuldade pra contar coisas que eu tô sentindo. Eu sempre fujo de assunto, como se eu criasse já essa armadura.
Agora eu consigo perceber isso. Antes eu não percebia, porque eu não tinha espaço. Como é que eu ia dizer o que eu tava sentindo? Não tinha espaço. E como existe essa dureza na família prete assim, tipo "tem que ser forte", "engole o choro", "não pode chorar", até nas minhas cólicas a minha mãe dizia pra mim "aguenta". Não tem esse lance de se eu cair alguém vai me juntar e vai me dar um tapinha nas costas. Não existiu isso pra mim. É "levanta, aguenta, segue", não tem espaço pro teu choro. E eu fujo dessa figura que abandona. Eu cresci sem pai. Eu tenho que fugir de o que é essa expressão de um homem preto cis. Entendendo e acolhendo o que é essa figura, porque ela é extremamente importante, sabe? Porque essa figura só é assim porque foi animalizada, foi segregada, foi violentada. Só é assim por causa disso. Mas é assim. E aí eu tenho que pensar porque é assim e fugir de ser assim. Então eu não quero ser uma figura que abandona, eu não quero ser uma figura que violenta. Eu sei o que eu não quero. Então eu to pensando em quem eu quero construir. Isso eu quero, pensar todo dia em quem eu quero construir, quem eu quero ser e reconfigurar isso, esses paradigmas, esses fatores. E ressignificar esse meu trabalho. E aí é o meu futurismo, né, aí vai a minha viagem de o que eu quero ser, pensando nas coisas que eu faço e o que eu já passei, a partir disso.
Minha ideia de arte é entrar em conexão com os sons que nosso corpo produz.
É saber que o bumbo, a caixa e a imaginação para escrever e recitar poesias permitem que nossas formas de expressão tenham possibilidades de reivindicar.
Essa é a revolução que posso fazer com a arte.
Com o meu corpo.
É saber que o bumbo, a caixa e a imaginação para escrever e recitar poesias permitem que nossas formas de expressão tenham possibilidades de reivindicar.
Essa é a revolução que posso fazer com a arte.
Com o meu corpo.
Zaire
(SOS DIAMOND).
1995.
Estudante de Saúde Coletiva na UFRGS, socorrista, artista e atua como compositore, mc, poeta, beatboxer, produtore cultural e, na sua pluralidade, faz parte da cena Ballroom do estado pela Kiki House Casa de Lançeira. No movimento Hip Hop, participou em diversas batalhas de Porto Alegre e região como BeatGamers, Batalha das Monstras, Batalha da Bronx, Batalha do Brooklyn, Batalha do Mercado, Batalha da Tuka, Batalha da Escadaria, Batalha do Poli e Batalha de Konoha.
*ensaio realizado em Porto Alegre (RS) em janeiro de 2021.
-
Esse projeto é feito por mim, Gabz. Sou uma pessoa trans não-binária e busco não só retratar mas também abrir um espaço onde outras pessoas trans possam contar suas histórias, pra dar suporte pra nossa própria comunidade. Depois de muito sofrer com a carência de referências de narrativas trans que me contemplassem percebi que essas pessoas existem e sempre existiram, porém por motivos CIStêmicos as poucas vezes que temos oportunidade de contar quem somos acaba sendo através da lente de pessoas que não sabem como é a nossa vivência. Comecei esse projeto por urgência.
Eu ofereço todo esse conteúdo de forma gratuita, pois não quero privilegiar o acesso só para quem pode pagar. Porém, para que esse projeto continue, eu preciso da sua ajuda. Compartilhe em suas redes sociais! Se você tiver condições financeiras, você pode também fazer uma doação única ou recorrente. Até mesmo 1 real já ajuda a tornar esse projeto possível.